A sociedade contemporânea vem usando, com muita frequência, a expressão “cultura” para nomear determinados fenômenos. Até que ponto podemos definir esses movimentos efetivamente como cultura.
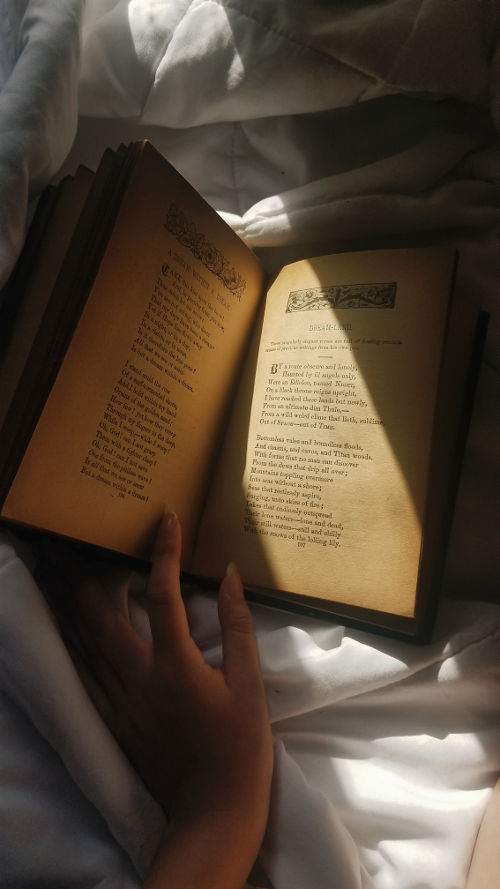
Foto: Sofia Alejandra
Muitos termos novos (ou até mesmo expressões antigas ressignificadas) têm sido adotados para se referir a fenômenos que ocupam lugar também na internet: trollagem, escracho, discurso de ódio, fake news, linchamento virtual. Por que haveria a necessidade de criação de um conceito tão forte como o de “cultura do cancelamento”? Estes movimentos que surgem para coagir moral, ética ou socialmente integrantes a partir dos mecanismos de plataformas digitais podem mesmo receber o termo “cultura”?
Para refletir sobre essa proposta, é preciso recorrer ao historiador inglês Peter Burke para tentar compreender melhor o contexto. Considerado um dos grandes nomes da história cultural, contribuiu para para entender as linhas historiográficas. Faz crítica ao cuidado que o historiador tem que ter de não fazer a história do que chama desencarnada.
Não dá pra pensar a história cultural desconectada das relações sociais, econômicas e mesmo políticas. E esse é um ponto de crítica de historiadores que não gostam de priorizar a história cultural e chamam de perfumaria da história. A simbologia que se define ou a dimensão das representações simbólicas tendem a ser definidoras da história cultural mas é mais uma possibilidade de método, de caminho. Como as sociedades lidam com os bens materiais, imateriais, das possibilidades de exploração de campo para o historiador cultural.
Há, no autor, uma constante busca pelos diálogos interdisciplinares. Está o tempo todo dialogando com outras áreas de conhecimento e ciência. A linguística, ciências da comunicação, psicologia social, entre outras dimensões auxiliam o historiador cultural a trilhar os caminhos.
Em “O que é história cultural” Burke coloca trocas entre alta cultura, mais elitista, e baixa cultura, que seria a popular. Fala do diálogo constante que não é estanque mas usa essa imagem que repete essa ideia de hierarquia. Isto é, situa o debate de forma a deixar claro que, por mais que trate das trocas constantes, ainda sugere uma hierarquia entre culturas e subculturas.
É interessante, portanto, tudo chamar cultura. Cultura do cancelamento, cultura do feminismo, cultura do aborto. Não há uma posição de superior ou inferior, mas de igualdade e diversidade. A estratégia que fala é o movimento, de imprensa, de grandes veículos, no caso. E a tática são os que não estão nos grandes meios e têm de batalhar um lugar dentro desse campo maior e dominante para marcar sua produção e espaço.
Está tudo sempre em movimento e isso que o Burke coloca com muita clareza. A ideia de que as coisas estão o tempo todos vivas e se realinhando. Usa uma imagem bacana quando fala das tendências, fala das gerações. Parece uma ideia nova, que precisa marcar uma diferença muitas vezes maior do que existe com a anterior. Como filhos, pais e avós. Para pensar nos conflitos, ele fala na introdução da História Cultural que já experimentou todas as correntes e como todos os processos podem trazer e contribuir com insights.
Burke aborda a necessidade se prestar atenção na metodologia no estudo da cultura. Historiadores e antropólogos são muito importantes na conversa de hoje. Um processo imbricado com a sociedade do espetáculo, da transparência. A história cultural ela é herdeira em desenvolvimento da chamada história social. Em alguns momentos não tem muita diferença.
Até a década de 70 era muito forte um domínio quase exclusivo da perspectiva marxista que pensa a história em termos de luta de classes e economia que determina as relações sociais. E que, portanto, a história tem esse movimento do conflito e da síntese. Mas que, em termos sobre como pensar história, tem uma certa linearidade. Uma sucessão de conflitos e busca de sínteses.
Depois de 1968, há uma crise generalizada acadêmica, teórica com os desdobramentos da experiência socialista e movimento de abertura de caminhos foram criadas outras necessidades. Primeiro movimento foi mudar o foco, ainda dentro da lógica do marxismo, mas explicar a história do ponto de vista do opressor, mas começar a olhar e contar a história do ponto de vista do oprimido.
Nos anos 80 ou um pouco antes, um olhar para a classe operária em termos de cultura. Não é algo que brota do solo, ela é histórica. Tem a ver com as experiências, as práticas, com uma dimensão cultural. Na década de 90 o sentido de cultura fica mais forte. Essa dimensão de mudar o olhar das narrativas históricas, dos sujeitos da história. É mais um movimento. Em vez de pensar no econômico opressores e oprimidos, vai pensar em como as relações se dão, sobre como os valores materiais se colocam.
Uma das questões centrais é que o termo “cultura” é complicado porque é polissêmico. Tem que entender o contexto que está sendo usado para que haja sentido. História cultural é muito próxima da antropologia, isto é, pensar no conjunto de valores, práticas que definem, contornam e identificam determinados grupos e suas vivências. E isso vai ficando mais forte e sólido a partir dos anos 70, 80 e 90 no Brasil. A gente costuma muitas vezes associar Cultura (com “C” maiúsculo) o que é culto ou inculto, o que tem cultura ou não. Mas não é o foco nem da antropologia. Na França se prefere falar em história das mentalidades. Não se falava cultural. Pensa-se o “c” minúsculo. Como as pessoas pensam as coisas. Diferente da história das ideias, como os filósofos vão desenvolvendo as interpretações. A história cultural é como as pessoas comuns pensam as coisas, podem ser tão inteligentes quanto os filósofos, mas usam outras ferramentas. Vale ressaltar a importância de pensar as práticas e representações, como as pessoas estão pensando as coisas.
Todo investimento que se fez para uma análise das relações a partir do viés da economia e da política, passa a ser (com participação da história cultural) passa a ser no local, no cotidiano. Deram muitas forças para as lutas identitárias, mas não fizeram as devidas ligações com as questões políticas e econômicas.
Não se pode falar de história cultural descolada da sociedade. Tem que poder sonhar, criar, simbolizar. A ideia de cultura carrega cada vez mais a discussão do simbólico, do sentido. E a palavra cultura é muito de atualização na sociedade. Em cada uma é reatualizada. A sociedade não está descolada da cultura e vice-versa. Não dá pra pensar que a noção de cultura está se dando em pequenos grupos, mas um reflexo da sociedade. Essa operacionalização da palavra cultura é entender o poder do simbólico. Na literatura, na hermenêutica, tudo é público. A cultura é pública porque o sentido é público, está no lugar público. É onde entendemos o sentido da palavra cultura.
Cultura de cancelamento tem origem nas vivências das redes sociais e que tem os embates, o silenciamento. É muito diferente do que falar em cultura do estupro. Quando falamos estamos abordando práticas culturais enraizadas numa estrutura, em termos de sociedade. Está na base do funcionamento da sociedade. Usos do mesmo termo mas um pode ser banalização, o que traz um certo perigo. Todo mundo tem cultura do ponto de vista antropológico, como uma apropriação do senso comum da expressão “cultura”. E isso traz um conflito de dominação, de dominado e dominante. Quando fala cultura inútil, existe um conflito. E como se apropria do conceito. É mais complicado ainda. Como vamos trabalhar com o senso comum dessa apropriação?
Também não podemos dizer que é pior ou melhor porque estaríamos negando as relações dos comuns. Tem algumas coisas que podemos usar o termo porque é um modo de vida que estrutura aquilo. “Cultura” cancelamento é um viés da midiatização cotidiana. Há uma disputa no lugar, um reflexo da luta por definição e social. E de sentido. Que sentido é dado para isso. Precisamos abordar que matriz ou corrente de pensamento estamos nos baseando para entregar esta palavra ou termo. Nesse momento de definição e disputa pelas cadeiras, por um lugar, onde vamos sentar.
Cultura e sociedade apresentam uma relação conflituosa na ciência. Quando diz que é a mesma coisa elimina ou antropologia ou a sociologia. Quando começamos a pensar a ciência moderna, século XIX, essas duas coisas são diferentes? Em termos de história, são diferentes. A cultura está dentro de nós e não algo que está fora. E, como somos caóticos por natureza, a cultura também é caótica e desornada. Por mais que a gente tente colocar ordem.
Burke fala do movimento de descolar de uma racionalidade, de um pensamento que considera a racionalidade imutável, que tem a ver com a lógica que a gente organiza o mundo em casinhas. Sempre ouvimos muito que a história é a ação do homem no tempo, então, a natureza não faz parte da história? A tendência de olhar a natureza como recurso separado de nós precisa ser repensada. O futuro, e não só o passado, também é tempo. É preciso romper a racionalidade de sim ou não, lógico e ilógico, de uma racionalidade muito binária. Carregar uma análise mais plural.
Algumas referências bibliográficas
BURKE, Burke. O que é História Cultural? Trad. Sergio Goes de Paula 2ª ed. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Editora. 2008.
DEBORD, Guy. A sociedade do espetáculo. Rio de Janeiro: Contraponto; 1ªª Edição (5 fevereiro 2007), 238 páginas.
HAN, Byuyng-Chul. Sociedade da transparência. Petrópolis: Editora Vozes, 2015, 120 páginas.
NORRIS, Pippa, Closed Minds? Is a ‘Cancel Culture’ Stifling Academic Freedom and Intellectual Debate in Political Science? (August 3, 2020). HKS Working Paper No. RWP20-025, Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=3671026 or http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3671026.
SIBILIA, Paula. O show do eu: a intimidade como espetáculo. Rio de Janeiro: Nova Fronteira; 1ªª Edição 2008.
HOOKS, Austin Michael. Cancel culture: posthuman hauntologies in digital rhetoric and the latent values of virtual community networks. Dissertação de Mestrado, Faculdade de Artes e Ciências, Universidade do Tennessee. Chattanooga, Tennessee, EUA, Agosto, 2020. https://scholar.utc.edu/theses/669/.
